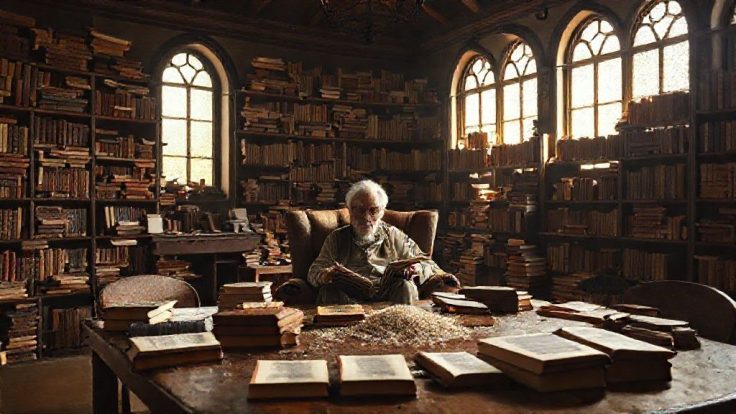O atelier cheirava a terebintina e café recém-passado. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, varrendo as partículas de poeira que dançavam como confetes silenciosos. Sobre a prateleira estreita, entre pincéis gastos e um vaso com ramos de oliveira, havia uma pequena estampa de São José Operário. Lucas olhou para ela por um instante e respirou fundo, como quem procura ali uma fresta de vento para as velas da alma.
— Hoje a gente precisa começar mais cedo — disse ele, ajustando a lista de tarefas. Lucas era o líder do grupo, mas parecia mais um maestro inseguro diante de uma partitura em branco. Suas criações exigiam sempre algo que ainda não existia, e ele vivia nessa fronteira entre o risco e a esperança.
Ana preparava a paleta com uma calma litúrgica. Seus movimentos lembravam contas de um terço invisível, e a expressão serena nos olhos traduzia a fé que costumava derramar nas telas. Ela acrescentou um toque de ouro no canto de um estudo, como se abrisse ali uma janela para o céu.
Rafael organizava tripés e luzes, cético por hábito e curioso por vocação. Ajeitava a câmera com a precisão de um relojoeiro. Já dissera muitas vezes que não sabia no que acreditava, mas desconfiava que a beleza era uma espécie de pista. Sempre que olhava para a estampa de São José, soltava um meio sorriso, entre respeito e ironia.
Maria, a pacificadora, circulava com canecas fumegantes, distribuindo o que faltava naquela manhã: tempo aquecido por gentileza. Tomava nota das encomendas no quadro branco, alinhando prazos que insistiam em desalinho.
Foi quando o telefone de Lucas vibrou. Ele atendeu, e sua postura mudou de imediato, como quem vê o mar se abrir e, ao mesmo tempo, escuta o vento anunciar que virá tempestade.
Sim, amanhã?
Ele engoliu seco. Uma série inteira para a Metrópole? É claro que nos interessa, só que…
Os três pararam para ouvir. Ao fim da ligação, Lucas resumiu: uma chance de ouro. A galeria Metrópole queria uma série exclusiva para a abertura do fim de semana. Pagamento justo, visibilidade incomparável. Mas o prazo era implacável: entrega na noite seguinte.
— E o mural da Casa do Pão? — lembrou Ana, erguendo a paleta. — As crianças estão esperando. A gente prometeu terminar amanhã.
Rafael cruzou os braços. — Promessa é bonita, mas aluguel é real. Se a Metrópole gostar, a gente fecha o trimestre. Não dá para abraçar os dois.
Maria aproximou-se, colocando sobre a mesa as canecas. — Talvez a gente precise respirar. Ver o que é essencial e o que é possível. Sem brigar.
Lucas estendeu as mãos, pedindo silêncio. Seus olhos buscaram a estampa de São José. — O mural é compromisso. A galeria é oportunidade. E os dois são trabalho. A pergunta é: como fazer isso sem perder quem somos?
Seguiu-se uma tarde de costuras e planos. Dividiram tarefas: rascunhos da série no atelier, mural no salão paroquial no amanhecer. A ideia era ousada: uma coleção que uniria texturas industriais e toques de luz — aço e epifania —, enquanto o mural receberia mãos pequenas e coloridas.
A noite chegou com chuva e um vento que batia nas frestas. O atelier parecia um navio no meio de uma tormenta. Foi quando um dos cavaletes cedeu, derrubando uma lata de diluente sobre duas telas quase prontas. Em segundos, manchas fantasmagóricas engoliram o trabalho de horas.
— Excelente — murmurou Rafael, tirando o pano do bolso. — Se não tivéssemos gasto tempo desenhando o mural, essas telas estariam secas agora.
Ana ergueu os olhos, firmes, mas suaves. — Trabalhar só pelo que dá retorno imediato é como pintar com tinta invisível. Nada fica de pé no coração.
— O coração não paga boletos — retrucou Rafael.
Maria aproximou-se, colocando a mão no ombro dele. — E o desespero também não. Vamos parar um minuto. Só um minuto. Silêncio.
O vento continuava, mas dentro do atelier o barulho se recolheu. Lucas, ainda com a mão manchada de azul, olhou de novo para a pequena estampa. — São José — disse, quase num sussurro —, ensina-nos a trabalhar com justiça e amor. Que a gente não negocie nossa alma por pressa.
O minuto passou, mas deixou um rastro de clareza. Lucas endireitou-se. — A gente honra o mural. Depois volta e simplifica a série. Se a Metrópole quiser brilho, vai ter o brilho do real. Se não quiser, que fique a paz. Quem topa?
Ana sorriu, já juntando os pincéis. Maria assentiu, e Rafael, após um instante de hesitação, deu de ombros. — Topo. Mas se der errado, a culpa é de São José.
Antes do sol, estavam no salão da Casa do Pão. As crianças chegaram em bandos, trazendo risadas em sacolas invisíveis. Mãos pequenas mergulharam em cores, carimbaram formas, inventaram cidades novas. Rafael fotografou detalhes — um dedo sujo de amarelo, uma risca torta que virou estrela — e foi capturado por algo que não cabia na lente: o rumor de sentido que nasce quando alguém é esperado.
— Olha, Rafa — disse uma menina, erguendo a palma toda pintada. — Agora minha mão está leve.
Ele riu. — Acho que foi sua mão que deixou esse muro leve, sabia?
Quando o mural ganhou o último contorno, um silêncio emocionado pousou sobre todos. Lucas assentiu, apertando a mão do padre que os acompanhava. Depois, voltaram ao atelier com as roupas respingadas e o coração cheio de arestas polidas.
Restava pouco tempo. Maria organizou a mesa, calculando o possível. Ana propôs um caminho: usar os carimbos improvisados das crianças — tampinhas, barbantes, pedaços de papelão — para criar texturas de “máquina e mão”. Lucas desenhou linhas sintéticas, deixando respiros de ouro nos encontros, como se a luz passasse entre engrenagens. Rafael, com domínio calmo, fez transferências fotográficas de partes do mural: as mãos pequenas, as estrelas tortas. A série ganhou um nome sussurrado: Ofício.
Na hora da entrega, a curadora da Metrópole percorreu as telas com um olhar que misturava cálculo e surpresa. Parou diante de uma em que uma impressão de mão infantil repousava junto a uma faixa metálica de azul. — Isto aqui não é… religioso demais? — perguntou, sem dureza, mais por hábito de enquadrar.
Lucas respondeu com simplicidade: — É trabalho. O nosso e o de quem nos ensina por estar ao nosso lado. Tentamos fazer tudo com o coração inteiro.
Ela suspirou, inclinando a cabeça. — É honesto. E respira. Fica para a abertura.
Na vernissage, as pessoas se aproximavam, tocadas por algo que não sabiam nomear. Um homem de terno comentou: — Tem uma dignidade aqui que não vejo sempre. Parece que as coisas têm dono, e o dono é o tempo bem gasto.
Depois, de volta ao atelier, exaustos e contentes, o grupo se reuniu ao redor da mesa. Rafael serviu o último café, apoiou-se na bancada e falou, sem a armadura do sarcasmo: — Não sei se encontrei a fé, mas hoje eu encontrei um jeito de respirar por dentro do trabalho. Quando a menina disse que a mão dela ficou leve, a minha ficou também.
Ana respondeu com um sorriso que parecia bênção. — A fé não é um quadro para pendurar na parede. É o modo como seguramos o pincel.
Lucas voltou-se à estampa de São José, não como quem pede, mas como quem agradece. Maria recolheu os panos, fechando o dia com o cuidado de quem guarda uma história dentro da gaveta.
Lição: Integrar a fé ao trabalho é honrar compromissos, servir com excelência, buscar a verdade sem medo e rezar para discernir. Nem sempre isso rende aplausos imediatos, mas sempre gera paz e sentido. E um trabalho feito assim se torna oração concreta, tijolo firme na construção do cotidiano.
Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para os homens.